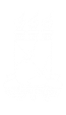"A atitude transdisciplinar é uma resistência ético-política frente à violência paradigmática linear, simplificadora da diversidade, promotora das cegueiras do pensamento"
Geovânia Nunes de Carvalho
“Uma verdadeira viagem de descobrimento não é encontrar novas terras, mas ter um novo olhar”. Morin (2012) citando Marcel Proust.
Inicio essa conversa recorrendo a uma fala do belíssimo filme gótico, Nosferatu (2024). A citação é do professor Albin Eberhart Von Franz, interpretado por Willem Dafoe e diz mais ou menos o seguinte: A luz da ciência nos cegou. Argumento em defesa do prof. Von Franz, demonstrando que sua atitude se relaciona com a temática deste Fórum, em especial, ao tema de encerramento, Inter-poli-transdisciplinaridade.
Meu ponto de partida é a apresentação do referido personagem na arte cinematográfica para justificar sua presença nesta conversa, realçando que sua atitude, frente aos antigos parceiros de academia no enfrentamento a Nosferatu, extrapola os limites científicos convencionais, indicando um comportamento transdisciplinar. Todo meu percurso é guiado pela perspectiva onto-epistêmica-metodológica complexa de Edgar Morin implicada com o pensamento do físico Basarab Nicolescu, reconhecido como um arauto da transdisciplinaridade no século XX.
***
“A luz da ciência nos cegou”.
A fala do professor Albin Eberhart Von Franz (Willem Dafoe) é uma crítica ao pensamento científico da época, auge da Modernidade, marco científico ocidental, um dos marcadores de rompimento com os princípios da ciência antiga.
Numa breve passagem, ficamos sabendo que o Professor Von Franz, médico renomado, fora expulso do meio acadêmico sob acusação de prática de misticismo, superstição e ocultismo. Verdade? Sim, e aponto como uma atitude de resistência. O personagem ganha força e o enredo gótico-fantasmagórico gira em torno da coexistência de fenômenos conhecidos pela via racional clássica e dos sobrenaturais, dos mistérios que rondam o universo (físico e metafísico) sobre os quais, as leis da ciência moderna não alcançam, por se ocupar exclusivamente, dos fenômenos chancelados pelos princípios universais matemáticos e da clarividência, rejeitando tudo o que excede essa fronteira epistêmica.
Ao considerar o mistério indecifrável dos fenômenos que povoam o universo, o ocultismo, ora representado pelo Prof. Von Franz, assume a atitude de preservar os elementos constitutivos da noosfera, como o sagrado, a intuição, a sabedoria popular, as crenças, a pluralidade cultural. Não se trata, pois, da busca da eliminação do contraditório, como pretende a ciência moderna, mas da constatação da existência de fatos inexplicáveis, fugidios do esquema do racionalismo moderno. Neste sentido, o caminho do ocultismo é guiado pela admissão e permanência da ignorância e dos limites do próprio conhecimento, nó górdio do pensamento complexo moriniano. Ou seja, da cegueira epistêmica do método simplificador universal científico ao rejeitar o incompreensível, o metafísico; o atravessamento do indeterminado e da incerteza emergencial causadora da desordem; o apavorante e o encantador; o terror e o medo das zonas brumadas, o desestabilizante, o invasor, o sagrado e o profano; os espaços “vazios” e encobertos entre a objetividade e a subjetividade do real.
Por esta via, posiciono a interseção entre a atitude do Professor Von Franz em identificar os postulados científicos à época como os causadores da cegueira do conhecimento e da temática deste Fórum em destaque, o tema de encerramento, Inter-poli- transdisciplinaridade.
O fio do pensamento complexo é uma tessitura entre fenômenos e vias distintas, reconhecendo sua relação implicada e autodependente, assim como a arte, a ciência e a vida. Na perspectiva de Morin, o pensamento complexo é uma abordagem onto-epistêmica- metodológica que considera a relação entre todos os fenômenos e saberes particulares. A realidade, o conhecimento e o homo complexo compõem a única rede complexa, histórica, sistêmica e emergencial, por isso, indeterminística. Portanto, inacabada sendo impossível uma conclusão universal, permanente e total.
Ao contrário dessa noção, os postulados da ciência moderna são erguidos por leis universais herméticas, fundadas na noção de causalidade única e determinística, cujo objetivo é conhecer todos os fenômenos, nem que para isso, seja necessário desconsiderar as particularidades fenomênicas e o devir histórico. A atitude epistêmica-metodológica é restrita a procedimentos e tutoriais, reduzindo o fenômeno por meio de uma violência epistêmica. Argumento, na minha tese:
Dessa forma, aumentam os vícios do conhecimento, denominados por Morin de ‘cegueiras’, que são a ilusão do conhecimento total sobre o real, as concepções paradigmáticas fundadas no monismo metodológico, geradoras da fragmentação dos saberes e da hiperespecialização. As patologias (cegueira, ilusão, delírio, fechamento, obsessão por verdade, ordem e leis determinísticas, fragmentação, simplificação, redução, algoritmização) são implicadas e funcionam em circuitos contínuos ascendentes, obstaculizando o conhecimento complexo, uma vez que ignoram a complexidade das crises, problemas e desafios planetários” (Carvalho, 2024).
Para alcançar seus objetivos, os postulados científicos modernos fragmentam tanto os objetos, os fenômenos, a realidade, o homo complexus, quanto as vias epistêmicas. A fragmentação diz respeito à especialização e à hiperespecialização que, por sua vez recorre ao arcabouço disciplinar específico, trazendo o caráter ambíguo desse movimento duplo: de um lado, a composição disciplinar, que especializa o conhecimento, favorecendo o aprofundamento sobre um dado objeto; de outro, o elenco disciplinar se torna auto referencial, por meio de um um pacto narcisista monológico.
Nesse sentido, destaco os dizeres de Corazza, Tiburi, Morin, Nicolescu quando denunciam a existência de gaiolas epistêmicas isoladas entre si, erguendo fronteiras de onde ramificam as patologias do conhecimento ventricular de cabeças bem-cheias. As consequências se dirigem para uma espécie de estranhamento entre os modos e os saberes das (hiper)especializações com o mundo real, pulsante, permeado por relações inesperadas, contraditórias e ambíguas; problemas cada vez mais complexos, agudizados pela miríade de informações e possibilidades emergidas da conectividade digital e em rede - complexidade cibercultural -, na medida em que são planetários, sistêmicos e, portanto, desencadeadores de crises emergenciais. Da mesma forma, o objeto torna-se prisioneiro das gaiolas disciplinares, alçando vôos rasantes, por meio da inter e poli-disciplinaridade até que, num dado momento, o pesquisador(a), docente e discente, como foragidos, ultrapassam as fronteiras para alcançar a transdisciplinaridade.
As disciplinas apresentam a ambiguidade: de um lado, são camisas de forças epistêmicas-metodológicas e, por isso, aprisionam o corpo docente, discente e seu objeto específico; se munem de uma linguagem própria e autoritária. Cada disciplina se reconhece autoridade em seu “lugar de fala”, quando na verdade, segundo Nicolescu, trata-se de uma babelização causadora de barreiras epistêmicas. Ademais, o fechamento disciplinar inviabiliza o desenvolvimento de uma crítica competente para tratar questões éticas, cada vez mais crescentes, que exigem a atitude do pensamento complexo e transdisciplinar. Tema do capítulo - Os desafios - de A cabeça bem-feita. E, o outro lado do caráter ambíguo das disciplinas, é a constatação de serem referências de um saber necessário e legítimo para o conhecimento. Ou seja, o pensamento complexo não nega as disciplinas, antes se junta a elas, reconhecendo suas patologias e incompletudes epistêmicas.
Retomo a fala do professor Von Franz, ao dizer que a luz da ciência é a causa de cegueira epistêmica, na medida em que, a obsessão por clarividência matemática se restringe a iluminar objetos que atendam às exigências dessa natureza. Portanto, objetos ou fenômenos que escapam desse esquema, são marginalizados e permanecem encobertos “escurecidos” no plano epistêmico. A constituição ontológica do pensamento linear “iluminado” exclui as margens compostas pelo diverso e são denominadas de excentricidade: a sombra de Nosferatu e os saberes alternativos.
Não basta, portanto, a atitude inter e polidisciplinar, porque ambas permanecem na linearidade disciplinar, ainda que haja avanços nessas áreas, de acordo com os exemplos de A Cabeça bem-feita. E ainda, a soma das competências (hiper)especializadas disciplinares e o movimento de inter e pluridisciplinaridade não atende às exigências para tratar questões contemporâneas cada vez mais complexas, conforme exposto no capítulo 1- Os desafios. Para Nicolescu, a soma das competências disciplinares é o resultado geral de incompetências (hiper)especializadas que não conseguem visualizar formas de enfrentamentos dos desafios planetários sistêmicos.
Vejamos mais detalhadamente as aspirações da inter e da poli-disciplinaridade.
A primeira, interdisciplinaridade, se dirige à transferência de métodos entre as disciplinas e possui três sentidos ou graus:
grau de aplicação: método da física nuclear para medicina. Ex: tratamentos contra o câncer;
grau epistemológico: lógica formal para o direito;
criação de novas disciplinas por meio da transferência e complementação metodológica: método da matemática cria a física-matemática; da física de partículas possibilitou a astrofísica e a cosmologia quântica; da matemática para a meteorologia; teoria do caos; da informática para a arte- a arte informática e digital.
A segunda, a poli, multi ou pluri-disciplinaridade, trafega no horizonte do estudo de um objeto/fenômeno vinculado a uma ou várias disciplinas. Por exemplo: uma obra de arte, pintura, pode ser estudado pela física, geometria, história da arte; a filosofia de Maffesoli transita na economia, sociologia, literatura. A atitude plural favorece o enriquecimento e aprofundado do conhecimento de um dado objeto/fenômeno O trânsito entre as disciplinas apresenta “um algo” a mais, mas, permanece refém das gaiolas epistêmicas disciplinares.
Ademais, não podemos perder de vista que a educação é fenômeno histórico e sempre aliada aos rumos políticos e econômicos de cada época, o que justifica a introdução da noção e a prática organizacional educativa por meio de disciplina. A educação sob a regência de saberes disciplinares nasce em atendimento às demandas da era industrial, no século XVIII, quando passou a exigir a formação especializada para a produção em massa. Recomendo a leitura da tese de Max Augusto Pereira/PPGED sob a orientação do Prof. Schneider. Destaco a análise sócio-histórica sobre a estruturação e transições dos modelos educacionais.
Prof. Juremir Machado - pensador da complexidade, jornalista, colunista político e tradutor de várias obras de E. Morin, em seu livro Escola da complexidade, escola da diversidade: pedagogia da comunicação, diz o seguinte:
A tradicional divisão dos currículos em disciplinas pode ser prática, confortável para os professores, de fácil gestão e mais econômica para as instituições. As razões para mantê-la certamente são mais de ordem econômica e administrativa do que pedagógica ou epistemológica. (2023, p. 40).
Sob a motivação das palavras do professor Juremir, pergunto: se a educação/escola é o cenário onde é refletido as mudanças históricas, demandada pelas novas configurações dos fluxos socioeconômicos paradigmáticos, porque ainda está sob a regência paradigmática do século passado? Se a educação/escola contemporânea observa e “vive” a reconfiguração planetária imposta pelas TDIC, que impulsiona a vida em rede, onde a comunicação é horizontalizada com pretensão à democratização, por que insiste na prática, majoritariamente, disciplinar?
Se aprendemos com Morin e com o vasto elenco de pesquisadores da complexidade que existe uma relação indissociável de tudo num todo inatingível, da vida à ciência, ao cotidiano, das políticas e organizações sociais e individuais, da educação, sistemas científicos, filosóficos e econômicos, veremos que essa relação fenomênica revela níveis de alta complexidade por serem históricos, emergentes e indeterminísticos, permeado por crises cada mais agudas e planetárias, então, por que o modo de pensar insiste ser tutelado pelas vias da racionalidade fechada, regente do pensamento linear, simplificador e redutor, portanto, exclusivo? Quais as condições de possibilidade para enfrentar os desafios de uma sociedade pulsante em rede frente a uma educação que trafega feito um trem, em trilhos (linhas) de ferro?
A partir dessa questão complexa pavimentada por diversas vias sinuosas como a sombra de Nosferatu, entramos no terceiro movimento disciplinar, a transdisciplinaridade, que comparece no pensamento complexo moriniano como um dos princípios da complexidade.
Para começar, digo que complexidade e transdisciplinaridade são atitudes onto- epistêmicas-metodológicas indissociáveis, são complementares, retroativas, hologramáticas, auto-eco-organizadoras, fruto de uma racionalidade aberta atenta às emergências, incertezas e crises.
Enquanto a inter, pluri, multi ou poli-disciplinaridade se movimentam nos limites de suas fronteiras epistêmicas, por meio da obediência procedimental aos códigos de linguagem e métodos próprios em busca da clarividência, da manutenção da identidade universal e da integridade de seus objetos, a transdisciplinaridade é uma atitude transgressora, uma obscenidade que se infiltra nas frestas disciplinares que não se limita a identidade única e estática do objeto, mas aspira compreender suas variações objetivas, subjetivas e inter subjetivas marginais. Por esta via, aproximo a atitude transdisciplinar à sombra de Nosferatu e a atitude do professor Von Franz. A tríade subversiva desestabiliza a ordem, subverte as leis, desestrutura as convicções, abala a verdade científica e religiosa, desafia os tentáculos da racionalidade fechada que sustentam os princípios da ciência moderna.
Nosferatu: um transgressor, um sedutor; arauto do mal imaginário que chega para testar a certeza e os limites do outro. Nosferatu, uma composição de não-matéria (sombra) e matéria (corpo, objetividade), cuja compreensão de sua existência híbrida e fantasmagórica, não dialoga com as leis determinísticas da modernidade. É preciso, junto com a atitude transdisciplinar do professor Von Franz, admitir outras possibilidades compreensivas da existência para um objeto/fenômeno, além dos critérios universais científicos implicados com os princípios da lógica clássica que determinam a exclusão e a não-contradição. É preciso ultrapassar tal formulação, transgredir, desobedecer o reducionismo totalitário onto- paradigmático-epistêmico-metodológico da modernidade. É preciso abrir vias integradoras e complementares epistêmicas para se aproximar da compreensão sobre um dado fenômeno, considerando tudo aquilo que fora rejeitado pelos movimentos disciplinares (hiper)especializados.
Mais uma vez, retomo a fala do professor Von Franz: A luz da ciência nos cegou.
A esta altura, minhas observações sobre essa cegueira se dirigem aos obstáculos da atitude limitada e limitante onto-epistêmica-metodológica disciplinar sobre a compreensão da realidade não-visível, do micro universo quântico, das margens e da própria subjetividade em relação ao objeto/fenômeno.
No caso do professor Von Franz, temos o ocultismo, assim como poderiam ser as ciências alternativas, que no âmbito do pensamento complexo não são concebidas em oposição aos saberes (hiper)especializados desenvolvidos pelas disciplinas e suas variações metodológicas, mas um possível complemento, uma abertura para o olhar e experiência do diverso diante de um saber marginal e invisibilizado. Essa invisibilização, a que Enrique Dussel chama de encobrimento do diverso (do outro), poderá ser restaurada pela atitude que se realiza entre as disciplinas, um além de qualquer disciplina e através da inter, poli, multi ou pluri-disciplinas. Isso é transdisciplinaridade!
Para o pensamento complexo transdisciplinar, essa possibilidade só poderá acontecer a partir da abertura das gaiolas e, consequentemente, o enriquecimento e aprofundamento da compreensão de um fenômeno.
De acordo com Nicolescu, a transdisciplinaridade não nega ou se opõe às atitudes disciplinares. Antes, justifica suas existências, bem como as (hiper)especializações, mas reconhece que elas são insuficientes para a compreensão do objeto, devido à restrição do campo epistêmico. Por outro lado, o pensamento clássico reconhece a transdisciplinaridade como um absurdo, devido a ausência de um objeto específico para estudo.
O ponto de inflexão do princípio da transdisciplinaridade nos remete a três superações no plano da mecânica e física quânticas.
A primeira delas, representada por Max Planck, por ter descoberto o princípio da descontinuidade no campo da física. Ora, toda a filosofia e ciência clássica estavam seguras da relação linear e determinística entre os fenômenos, fonte segura da noção de causalidade local única para um determinado efeito. Entretanto, a pesquisa de Planck e seus parceiros de academia, mostrou que na física, o quantum é uma quantidade mínima de energia, de estrutura discreta, infinitamente pequena e breve, impossível de ser identificada pelos princípios da física clássica. Além disso, o quantum pode ser estudado por diversos valores e probabilidades, além dos postulados da física clássica, dificultando o conhecimento exato da posição da matéria e o modo como as partículas trocam energia. Para completar, os físicos demonstraram que, por meio de uma medida experimental, obtém-se o único e o mesmo resultado obtido pela física clássica. Ou seja, o experimento demonstrou a pluralidade causal, desbancando a tese da causalidade local e linear da física clássica, desde Galileu, Kepler, Newton até Einstein.
A segunda superação científica, igual a sombra invasora de Nosferatu, migrou para a transdisciplinaridade. Estamos falando sobre o princípio da incerteza de Heisenberg.
Heisenberg formulou a tese da impossibilidade de determinar, com precisão, a localização espacial e temporal do quantum e, consequentemente, traçar sua trajetória. Outro abalo sísmico na noção da causalidade linear, que sustentava as leis determinísticas. Contudo, o indeterminismo não significa acaso, imprecisão, caos e, sim, um indeterminismo construtivo, fundamental e irredutível, mas sempre em contraposição ao termo “precisão” e “necessidade”, tal como admitido na ciência clássica implicada com a noção de causalidade linear, localizável no espaço e tempo.
O indeterminismo diz respeito ao quantum e não às matérias da física clássica ao se reportar a uma minúscula indeterminação das condições iniciais como um caos, uma desordem, um ruído que deve ser expurgado do sistema. Interessante observar que assim como a complexidade, obscenamente, invade os fundamentos da ciência clássica, a noção de desordem nasce no seio do determinismo. Na teoria quântica, o caos, ainda que desordem, é uma nova realidade forjada pela trajetória do quantum (indeterminado no espaço e tempo).
Para Nicolescu, o impacto dessas descobertas - princípios da descontinuidade causal linear e da incerteza - trazem o imperativo da revisão dogmática sobre a noção de Realidade e da existência de um único nível de Realidade. Por Realidade, Nicolescu compreende tudo “que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formulações matemáticas”. (1999, p. 7)
Vejamos o desdobramento dessa compreensão: do ponto de vista objetivo, a física quântica nos fez descobrir que a abstração não se resume a um mecanismo intermediário entre sujeito e a Realidade, na tentativa de representação, por meio do formalismo matemático dos postulados científicos clássico ou quântico. Mas, a abstração é uma parte constituinte da Realidade que resiste a estes mecanismos formais.
Do ponto de vista subjetivo, ontológico, a Realidade não se resume a uma construção social, um consenso coletivo intersubjetivo sobre normas de convivência. Para Nicolescu, a Realidade possui uma constituição trans-subjetiva, tendo em vista que uma atitude experimental sobre uma teoria sociológica ou econômica, pode arruinar uma teoria consolidada.
A noção de Realidade, baseada no princípio da descontinuidade causal e da incerteza, mostrou a coexistência de dois níveis de realidade radicalmente distintos, forçando a revisão esquemática cognitiva do formalismo da lógica clássica. Coube ao filósofo Lupasco, a reorganização cognitiva desse novo esquema.
É preciso recuar para o cenário paradigmático do século XX, no qual a lógica clássica atende à formulação aristotélica, fundada nos princípios da não-contradição e da exclusão de um terceiro termo. Seu formalismo se dirige a um único nível de Realidade, com o propósito de definir normas universais de verdade e validade para conhecer um objeto, independente de sua constituição. A intenção é o estabelecimento da ordem, pois, sem ordem não há possibilidade de conhecimento, de leitura de mundo e, consequentemente, de aprendizado e existência/convívio social, político. Em outros termos, a lógica clássica não se limita às ciências, mas se apresenta como um paradigma da estrutura organizacional social, definindo uma ontologia e epistemologia linear, binária, portanto excludente da diversidade, eliminando as contradições, incertezas, ruídos, atravessamentos de toda espécie de fenômenos emergenciais.
Na contramão, a reorganização da lógica de Lupasco, denominada por lógica do terceiro incluído, se funda na admissão da inclusão de tudo o que a lógica clássica despreza. A virada de chave dessa lógica é que ela não nega ou exclui a lógica clássica, mas reconhece que o formalismo dogmático e binário se limita ao tratamento de questões “simples”, objetivas, como a diferenciação entre água e fogo, mas é insuficiente para compreender questões complexas constituídas por contradições insuperáveis. A lógica do terceiro incluído, ou do termo T, ao invés de excluí-las, as acolhe, bem como as ambiguidades, os paradoxos, as incertezas e emergências que constituem o conhecimento, as relações sociais, o próprio ser humano e todas suas multidimensões. Portanto, trata-se de uma lógica com projeção à integração e conciliação entre os opostos e, não, sua exclusão por mecanismos cognitivos binários, iluminados por uma ciência dogmática “cega”.
Lupasco provoca um salto qualitativo no campo epistêmico clássico e quântico, que abrange todas as ciências e o modo de posicionamento subjetivo diante o mundo e todas as relações sociais.
Vejamos a superação:
- Lógica clássica:
- Axioma da identidade: A é A
- Axioma da não-contradição: A não é não-A
- Axioma da terceiro excluído: não existe um terceiro termo T, somente A e não-A 2- Lógica do terceiro incluído:
- Axioma da identidade: A é A
- Axioma da não-contradição: A não é não-A
- Axioma do terceiro incluído: T é, simultaneamente, A e não-A.
Pela poesia, compreendemos melhor:
QUADRILHA - DRUMMOND
João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história.
Em Quadrilha, o terceiro incluído, T é J. Pinto Fernandes e corresponde ao nível de Realidade negado pela lógica clássica ao reduzir a conclusão apenas às duas premissas apresentadas. Ou seja, o fator emergencial foi totalmente desconsiderado, em obediência ao formalismo binário, quer seja empírico ou abstrato. No caso de Quadrilha, o T se projeta para além da Realidade dada em busca da visualização de outros elementos constituintes dessa mesma Realidade, J. Pinto Fernandes. O T atinge outra Realidade que ultrapassa a temporalidade e a espacialidade, pois seu formalismo considera a simultaneidade, a coexistência do contraditório, do indeterminado, do ainda não conhecido.
Quando posicionada no vasto campo da abordagem complexa moriana, a tríade composta pelos princípios da descontinuidade causal (Planck) e da incerteza (Heisenberg), somadas à lógica do terceiro incluído (Lupasco), convida educadoras e educadores à revisão de suas práticas docentes e da organização curricular disciplinar serial.
Ora, se a tríade científica aqui apresentada foi capaz de reformular os postulados da ciência clássica desde os socráticos, notadamente a lógica aristotélica, por que a pedagogia contemporânea não conseguiu o mesmo feito e, quando o faz, é na ordem isolada, de exceção? Se desde o século passado vivemos sob a regência do mundo cibercultural em rede sinuosa ascendente, onde o oceano de informações encharca nossos sentidos reestruturando nosso sistema neural, por que ainda a educação se organiza sob preceitos onto- paradigmáticos-epistêmicos-metodológicos científicos fundadores da ciência moderna e da era industrial?
As perguntas complexas não têm respostas exatas, mas pavimenta vias para pensá-las e atualizá-las conforme as necessidades específicas.
Complexidade e transdisciplinaridade: uma via de mão dupla
Nos ensina Morin que complexo é todo o tecido cósmico, humano, da noosfera, do conhecimento, da estética, das culturas, das espiritualidades, dos afetos e desafetos, dos sistemas políticos e econômicos, da realidade objetiva, subjetiva e intersubjetiva, não havendo ruptura entre essas esferas.
Ora, se concordamos com Morin, então, a atitude docente complexa, abarca a inter- poli-transdisciplinaridade, simultaneamente. Termos “difíceis de definir” devido à polissemia, sugerindo atitudes de conciliação, de agregamento. Para o estudioso da Transdisciplinaridade, professor Dante Galeffi, trata-se de uma atitude de amorosidade por seu caráter humano inclusivo, solidário e dialógico.
Para além da polissemia, como deve ser a atitude docente transdisciplinar, no contexto da educação/escola, onde a atitude docente é confundida com a atividade de curadoria, animação, coach, facilitadora? Morin, em A cabeça bem-feita (p. 101-104) e em outras obras sobre educação, a docência comporta, além de uma profissão, função, uma missão de saúde pública. Na minha frágil e limitada visão, creio ser muito para alguém que recebeu a formação na ordem de currículos seriais, quer seja da licenciatura ou bacharelado, independente da área ser humana ou exata. Esta é uma das raras posições que penso, respeitosamente, diferente de Morin, mesmo que seu conjunto argumentativo reposicione o termo “missão” implicado à Eros.
Ao considerar a educação e o educar-se uma ação política e, no mundo atual regido pela tecnociência potencializadas pelas TDIC, onde a atitude transgressora e a diversidade cultural impera nas redes sociais, como seria a docência transdisciplinar? Creio ser consensual que a atitude docente dessa natureza, não se limita a atender a sequência curricular predeterminada. Ela deve aspirar sua reinvenção com vistas ao acompanhamento do movimento impulsionado pela rede infotécnica novo e surpreendente.
O exercício inter, poli, multi-disciplinar é seguro, especialmente para o docente, mas pode ser enfadonho para o corpo discente, pode ser interessante para ambos, mas inexoravelmente, limitante para os dois lados, atende o currículo, mas não as expectativas da curiosidade, a criatividade no processo de ensino e aprendizagem.
Já a atitude transdisciplinar nos revela ousadia, transgressão, criatividade e a presença contínua da diversidade de linguagens. Aqui não se trata de babelismo e, sim, do desenvolvimento de um certo poliglotismo, visando práticas educativas que transcendam a objetividade curricular para promover meios de compreensão necessários para a convivência e sociabilidade com o outro, o diverso e, mesmo, o outro de cada eu. A atitude transdisciplinar é uma resistência ético-política frente à violência paradigmática linear, simplificadora da diversidade, promotora das cegueiras do pensamento.
O exercício transdisciplinar complexifica os saberes particulares e atinge os vazios disciplinares que a inter e a pluridisciplinaridade não alcançam. Para invadir essa bruma, é imperativo a policompetência docente somada à polilógica para se referir aos níveis de realidade encobertos nos planos da objetividade e subjetividades.
O docente transdisciplinar é um intelectual renomeado; ele não é um intelectual iluminista, preso em seu gabinete, representado pelo Pensador de Rodin. Sua intelectualidade é sustentada nas atitudes promotoras do diálogo com a diversidade, apoiado em esquemas cognitivos organizadores e articuladores entre as disciplinas e métodos. Sua intelectualidade deve promover o debate, a discussão e a articulação entre os saberes particulares e a vida além, entre e através das disciplinas, aspirando a formação permanente para a vida.
O docente transdisciplinar exerce a função de co-regente de uma orquestra complexa, hologramática, retroativa, transbordantemente dialógica. Parafraseando Caetano, a atitude transdisciplinar deve estar aberta à escuta, a empatia e ao acolhimento de cada ser estudante que carrega em si a dor e alegria de ser o que é ou ainda não é e vive sem saber o que é ou será. Ele deve estar atento à variedade de intenções, de racionalidades e de apatias imersas no mundo vivo pulsante, emergente, ambíguo e contraditório, como é o universo da complexidade cibercultural. O ser docente transdisciplinar deve ser criativo para reposicionar um objeto ou fenômeno de acordo com as novas realidades e emergências que circundam o processo educativo vivo. A atitude transdisciplinar nos joga para dentro da turbulência cibercultural, onde é preciso saber esperar o inesperado, negociar com as incertezas e o novo transitando no além, entre e através dos currículos e planos de aulas. Esse movimento transgressor poderá ser um antídoto contra as regras de conhecimento patológico que, igual a maldição da Medusa, nos cega e nos paralisa. Portanto, a atitude onto-epistêmica- metodológica transdisciplinar, nos remete ao posicionamento de desencobrir as ligações intrínsecas de fenômeno aparentemente disperso.
Seguindo os passos do professor Von Franz, a atitude transdisciplinar não rejeita hipóteses irracionais, mas as acolhe para melhor compreender o racional.
Concluo com o fragmento de Marcelo Gleiser, físico, astrônomo, professor, filósofo, escritor e roteirista, quando se aventura nas vias do novo olhar possibilitado pelo além, entre e através das disciplinas, para buscar compreender as sombras que a luz da ciência considera irracional.
A pesca e a ciência são um flerte com o elusivo. Focamos o olhar na água durante horas para talvez vislumbrar um peixe que venha até o raso ou outro que pule, de repente, atrás de algum inseto. O mundo das criaturas aquáticas é outro, um universo paralelo, do qual pouco percebemos. Podemos apenas conjecturar o que ocorre sob a superfície, onde predadores e presas encenam o jogo da vida. Na pesca, a linha e o anzol são instrumentos que usamos para sondar essa outra realidade, que percebemos apenas imperfeitamente. E assim ocorre com o mundo, que, em grande parte, também nos escapa. (Gleiser, p. 14, 2016).
Geovânia N. de Carvalho é doutora em Educação, pedagoga no CECH/UFS e pesquisadora no Grupo de Estudo e Pesquisa em Informática na Educação (GEPIED/UFS/CNPq).
REFERÊNCIAS:
CARVALHO, Geovânia N. de. Lições da racionalidade aberta: via para (re)criar as humanidades na complexidade cibercultural. https://gepied.org/producoes/licoes-da- racionalidade-aberta-via-para-recriar-as-humanidades-na-complexidade-cibercultural/. maio de 2024.
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento.tradução : Eloá Jacobina. 26. ed. Bertrand Brasil, 2012.
NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. Triom: São paulo, 1999. NOSFERATU.2024. https://www.primevideo.com/-
/pt/detail/Nosferatu/0F7TWFQK7RKDWLFNLUG9GBV2XD
SILVA, Juremir M. da. Escola da complexidade, escola da diversidade: pedagogia da comunicação. Porto Alegre, L&PM, 2023.
GLEISER, Marcelo. A simples beleza do inesperado: um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida. Rio de Janeiro: Record, 2016.